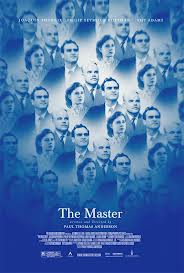“[…] acima de tudo, O Lado Bom da Vida é um filme agradável […]”
por Gabriel George Martins
Indicado a 8 Oscars: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Edição
 Personagens desajustadas. Subúrbios estadunidenses. Relações familiares. O cinema em geral – público e crítica – sempre fez questão de consagrar esses temas, projetando à fama alguns nomes (antes de comandar 007 – Operação Skyfall, Sam Mendes foi o responsável pelo brilhante Beleza Americana) ou trazendo de volta outros ídolos já bem estabelecidos. Amalgamar duas dessas abordagens, ou mesmo as três, pode resultar em algo inovador, sem precedentes, ou em uma produção formulaica.
Personagens desajustadas. Subúrbios estadunidenses. Relações familiares. O cinema em geral – público e crítica – sempre fez questão de consagrar esses temas, projetando à fama alguns nomes (antes de comandar 007 – Operação Skyfall, Sam Mendes foi o responsável pelo brilhante Beleza Americana) ou trazendo de volta outros ídolos já bem estabelecidos. Amalgamar duas dessas abordagens, ou mesmo as três, pode resultar em algo inovador, sem precedentes, ou em uma produção formulaica.
A princípio, O Lado Bom da Vida (EUA, 122 min.) se aproxima mais do primeiro caso: a edição dinâmica, cheia de cortes rápidos e inequívocos, os diálogos ágeis e precisos e a ambientação perfeita dão o tom do 1º ato do filme. Conforme a película avança, porém, suas tramas se desenvolvem de forma pouco ousada, e o novo longa de David O. Russell (O Vencedor) quase adquire o aspecto formulaico que deveria ser evitado, ainda que seu miolo contenha alguns destaques.
 Com roteiro escrito pelo próprio O. Russell, adaptado do romance de mesmo nome de Matthew Quick (o qual eu li), a obra nos apresenta, já nas primeiras sequências dentro de um hospital psiquiátrico, o ex-professor Pat Solitano (Bradley Cooper), que, após deixar o referido hospital depois de oito meses internado – um período que leva anos no livro -, procura recuperar a vida que tinha antes. Em meio aos exercícios físicos regulares, Pat tenta reconquistar sua esposa, lidar com seus pais (Robert De Niro e Jacki Weaver), com seu terapeuta (Anupam Kher) e com os jogos dos Eagles. No meio disso tudo, surge Tiffany (Jennifer Lawrence), uma mulher que também sofre de prolemas mentais e que atrai a simpatia de Pat. Aí está o início de uma amizade que promete mexer com ambos.
Com roteiro escrito pelo próprio O. Russell, adaptado do romance de mesmo nome de Matthew Quick (o qual eu li), a obra nos apresenta, já nas primeiras sequências dentro de um hospital psiquiátrico, o ex-professor Pat Solitano (Bradley Cooper), que, após deixar o referido hospital depois de oito meses internado – um período que leva anos no livro -, procura recuperar a vida que tinha antes. Em meio aos exercícios físicos regulares, Pat tenta reconquistar sua esposa, lidar com seus pais (Robert De Niro e Jacki Weaver), com seu terapeuta (Anupam Kher) e com os jogos dos Eagles. No meio disso tudo, surge Tiffany (Jennifer Lawrence), uma mulher que também sofre de prolemas mentais e que atrai a simpatia de Pat. Aí está o início de uma amizade que promete mexer com ambos.
Antes de mais nada, é preciso dizer que, acima de tudo, O Lado Bom da Vida é um filme agradável, quase um feel good, não fosse a camada de drama que a reveste. Entretanto, aqui falamos de uma comédia que, apesar de seus momentos sérios, não abre mão de doses frequentes de comicidade e situações impagáveis – como uma bizarra conversa sobre remédios tarja preta entre os protagonistas durante um jantar. Essa mesma conversa, aliás, prova a imensa identificação do casal e nos mostra o quão à vontade estão Cooper e Lawrence em seus papéis.
 Outra química que dá certo é estabelecida entre Cooper e De Niro. As cenas que envolvem os dois dentro de sua casa são sempre pontuadas por discussões amigáveis, brigas barulhentas ou agressões físicas, situações em que a câmera na mão é um recurso certeiro utilizado pelo diretor no intuito de aproximar essas çenas do espectador, que pode sentir-se incluído nelas assim como se sente incluído nas cenas de sua própria família, na vida real.
Outra química que dá certo é estabelecida entre Cooper e De Niro. As cenas que envolvem os dois dentro de sua casa são sempre pontuadas por discussões amigáveis, brigas barulhentas ou agressões físicas, situações em que a câmera na mão é um recurso certeiro utilizado pelo diretor no intuito de aproximar essas çenas do espectador, que pode sentir-se incluído nelas assim como se sente incluído nas cenas de sua própria família, na vida real.
A obra tem uma moral implícita: a de que não importa se falamos de uma pessoa normal ou de alguém castigado por problemas psicológicos, todos têm algum tipo de transtorno a ser encarado e resolvido, em maior ou menos escala. O pai de Pat é viciado em apostas e tem um tipo de TOC; Ronnie (John Ortiz), seu amigo, beira o desespero quando o assunto é sua vida conjugal; Danny (Chris Tucker, ótimo), seu melhor amigo, tenta a todo custo fugir de uma vez por todas do hospital psiquiátrico. Simultaneamente, a essência de queda e superação exalada pela narrativa é o fator que denota a resolução desses transtornos – e, assim, há um certo diálogo com outro filme sobre desajustados também ambientado na Filadélfia: o clássico Rocky – Um Lutador. Em O Vencedor, O. Russell também empregou pontes entre seu trabalho e o longa de 1976; em O Lado Bom da Vida (filme) essas referências estão mais diluídas, embora presentes. Por outro lado, em O Lado Bom da Vida (livro) isso fica claro. Guardadas as devidas proporções no que concerne à diferença entre mídias, a versão literária da história aposta mais nessa relação – chegando ao ponto de o narrador sugerir ao leitor que este leia um capítulo inteiro da obra ouvindo Gonna Fly Now, clássico tema de Rocky Balboa (obs.: é claro que o redator desta crítica fez isso).
 Se as atuações de Cooper, Lawrence e De Niro estão bastante satisfatórias, é difícil afirmar isso do desempenho de Jacki Weaver, afinal, a atriz parece muito apagada no longa, tendo pouquíssimos instantes de destaque – em parte por uma deficiência no roteiro, em parte pela mesma edição dinâmica que soava como um atrativo. E aí começam os problemas do filme.
Se as atuações de Cooper, Lawrence e De Niro estão bastante satisfatórias, é difícil afirmar isso do desempenho de Jacki Weaver, afinal, a atriz parece muito apagada no longa, tendo pouquíssimos instantes de destaque – em parte por uma deficiência no roteiro, em parte pela mesma edição dinâmica que soava como um atrativo. E aí começam os problemas do filme.
O estilo de montagem funciona no 1º e 2º atos. No 3º, contudo, ela termina por trair a obra. Ocorre uma simplificação estúpida de cenas, com cortes apressados demais até para o formato estabelecido desde o início da projeção – as cenas poderiam ser muito melhor desenvolvidas, ao custo da adição de um ou dois minutos. O diálogo final – não revelarei as circunstâncias -, por exemplo, revela-se fugaz e tolo; mais silêncios e menos cortes poderiam  despertar mais sensações no público e talvez até estabelecer alguma tensão por seu desfecho.
despertar mais sensações no público e talvez até estabelecer alguma tensão por seu desfecho.
A partir de certo momento, deixa de haver aprofundamento na doença de Pat – de uma hora para outra ela parece não existir mais. A relação dele com outras personagens, sobretudo Cliff, o terapeuta, deixa de ser explorada.
Além disso, o roteiro apresenta clichês bobos, capazes de diminuir em algum ponto a sagacidade inquebrantável da película. Coincidências convenientes em momentos cruciais e descobertas aterradoras por meio de ligeiros vislumbres – com direito até a close sugestivo no rosto da personagem – não faltarão até o final.
Todavia, há de se concluir que o resultado disso tudo é adequado. As falhas do 3º ato, se se repetissem pouco mais, teriam afundado o filme; por sorte – muita, muita sorte -, não é o que acontece. As indicações aos prêmios da Academia dividem-se entre as justas (Ator, Atriz, Ator Coadjuvante), as injustas (Filme, Roteiro Adaptado, Atriz Coadjuvante), e as que renderiam horas de discussão (Direção, Edição). De qualquer forma, aqui há homogeneidade suficiente para divertir e encantar a todos que procuram aproveitar o lado bom da vida.
7/10
O Lado Bom da Vida (Silver Linings Playbook, 2012)
Dirigido por: David O. Russell.
Roteiro por: David O. Russell, baseado no livro homônimo de Matthew Quick.
Elenco: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver e Chris Tucker.